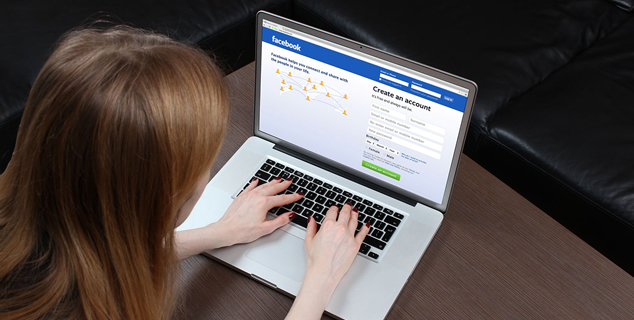A Lei Maria da Penha ainda nem existia no papel e Gleissimar Castelo Branco, de 48 anos, já era agredida pelo marido. Seu caso não virou discussão na internet, tampouco teve destaque na imprensa nacional. Onde Gleissimar vive, a violência ainda é silenciada de todos os lados. Da porta para dentro, o ditado popular “em briga de marido e mulher não se mete a colher” é seguido à risca. Do lado de fora, quem ousa denunciar, encontra uma terra sem lei. “Aqui na região a mulher só tem duas escolhas: ou você apanha em silêncio ou denuncia e tem grandes chances de morrer assassinada ou desaparecer”, afirma Gleissimar.
Para encontrar esse cenário, siga o rastro do Rio Solimões e viaje até o coração da Floresta Amazônica. Por lá, o Brasil divide uma fronteira aberta com a Colômbia e o Peru, na região conhecida como Alto Solimões, onde vivem mais de 150 mil pessoas. É um Brasil esquecido pelo poder público e com uma população vivendo em extrema pobreza. Os sorrisos são escassos, a hospitalidade tímida e o olhar sempre tem um toque desconfiado. “A gente vive em um silêncio de medo por aqui. Nem o vizinho do lado abre sua vida tão facilmente”, conta Gleissimar.
As duas maiores cidades brasileiras são Tabatinga – que faz divisa com Letícia, na Colômbia, e Santa Rosa, no Perú – e Benjamin Constant, onde Gleissimar vive. Para além dos municípios, a região é cercada por 350 comunidades indígenas, com mais de 76 mil nativos. A proximidade das aldeias com as cidades transformou as terras dos índios em bairros de periferia.
“É uma região muito pobre e as pessoas têm acesso difícil à educação, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Ainda temos uma sociedade muito machista por aqui, onde a mulher é apenas um objeto a serventia do homem”, explica Flávia Melo, antropóloga e pesquisadora do Observatório da Violência de Gênero da Universidade Federal do Amazonas (UFMA).
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Tabatinga é de apenas 0,616 e, mesmo assim, é o mais alto da região. O IDH é utilizado para mostrar o contexto social da cidade, como a expectativa de vida ao nascer, o acesso ao conhecimento e a qualidade dos municípios. A média da região do Alto Solimões é de 0,533, considerado baixo e preocupante pelas Nações Unidas. Para efeito de comparação, o Brasil tem um IDH de 0,755 e até mesmo as favelas do Rio de Janeiro são mais desenvolvidas: como o Complexo da Maré (0,686) e o Morro Dona Marta (0,684).
“O problema é que a maioria das mulheres é coagida a não registrar a ocorrência na delegacia. É como se os casos não existissem por aqui. Todo mundo sabe que acontece, mas ninguém tem coragem de expor”.
Os dados oficiais de violência mostram que o Amazonas está longe da liderança de mulheres assassinadas (ocupa a 21ª posição no Brasil, com uma taxa de 4,2 a cada 100 mil habitantes), mas quem conhece a região norte sabe que a realidade é bem diferente das estatísticas. Nos últimos cinco anos, as mulheres responderam por mais de 60% dos mais de 10 mil boletins de ocorrência no Alto Solimões. Duas em cada quatro vítimas sofreram lesão corporal ou foram ameaçadas, segundo o Mapa da Violência do Alto Solimões.
“Aqui em Benjamin eu atendo, pelo menos, três casos de violência por dia. O problema é que a maioria das mulheres é coagida a não registrar a ocorrência na delegacia. É como se os casos não existissem por aqui. Todo mundo sabe que acontece, mas ninguém tem coragem de expor”, conta a policial militar Aldicéia do Nascimento Lopes.
Há pouco mais de dois meses, Aldicéia descobriu que a violência mora logo ao lado, na casa da irmã mais nova. Aldinéia do Nascimento Lopes foi casada durante 14 anos. Logo depois de colocar a aliança na mão esquerda, a mão direita do marido passou do carinho ao tapa, do afago para a faca. “Ele bebia muito e quando chegava do bar me agredia sempre. Era uma rotina que eu achava normal”.
E nessa ‘normalidade’ da violência, o casal teve quatro filhos. Nos últimos dois anos de relacionamento, ela não saía mais de casa, com medo de provocar o marido. “Se eu conversasse com a vizinha era um motivo de briga e ele já me atacava com o facão. Eu não sei como estou viva até hoje”, lamenta. Os filhos cresceram nesse ambiente, assistindo a própria mãe ser agredida diariamente. “Eles sabiam que quando o pai bebia precisavam esconder todas as facas de casa porque senão ele me mataria”, conta.
Ninguém da família de Aldinéia sabia das agressões e ameaças que ela sofria do marido. Nem mesmo a irmã, que era policial militar. Em maio deste ano, a dona de casa fugiu pela primeira vez e ligou para a polícia. “Fiz o boletim de ocorrência, mas não tinha delegada em Benjamin Constant para fazer o flagrante”, conta a vítima.
Nas mais de oito horas em que ela esperou por um representante da Polícia Civil para o marido ser enquadrado na Lei Maria da Penha foi persuadida a retirar a queixa. “Eu me senti tão mal, achei que eu estava fazendo o errado, que eu era a culpada por aquela situação. No final, ele passou por vítima e eu por agressora”, diz.
Hoje, o ex-companheiro anda solto pela cidade e Aldicéia presa dentro de casa, com medo de uma vingança. “Eu sou a prisioneira da história, a culpada por ter procurado a polícia.”
Infraestrutura
Para além da cultura machista enraizada na região, as cidades amazônicas sofrem o esquecimento do poder público. O Disque 100, canal de denúncia do governo federal, não funciona na Tríplice Fronteira, o 180 está fora do ar e nem delegado existe para investigar os casos de violência. As cidades de Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença estão há mais de seis meses sem representantes da Polícia Civil.
O município mais próximo que tem delegado é Tabatinga, mas você não pode ser violentada no fim de semana porque a delegacia estará fechada. E nem perca tempo em denunciar violência psicológica. Por lá, só vale se você chegar sangrando e com marcas. “Se você sofrer uma agressão por aqui e quiser denunciar vai precisar pegar um barco, pagar 40 reais, viajar durante uma hora até Tabatinga e escutar que não pode ser atendida porque é de outra cidade”, conta Aldicéia. “Agora me diga qual é a mulher pobre aqui da região que vai ter R$ 40 para viajar. Elas não vão, preferem ficar em suas casas e aguentar mais um dia de tapa na cara, mais um dia ouvindo de seus companheiros que não valem nada.”
O HuffPost Brasil questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Amazonas o porquê da falta de efetivo nas cidades do Alto Solimões. Em nota, a SSP negou que os atendimentos de violência contra a mulher não estão sendo feitos nas cidades do Alto Solimões. A Secretaria também afirmou que deslocou um delegado de Tabatinga para atender ocorrências nos municípios próximos, como Benjamin Constant.
O delegado substituto é Thyago Pereira Garcez, que já é responsável por mais duas bases da Polícia Civil. Ele reconhece a falta de estrutura na região. “A gente tem dificuldade com tudo: logística, humana, estrutura física. Não temos efetivo para atender e investigar a quantidade de casos da região. Estamos tapando os buracos menores primeiro”, se defende.
A família de Gisele Gonçalves Gomes, de 18 anos, sabe bem o que a falta de efetivo da polícia significa. Em maio de 2015, a jovem saiu para uma festa com as amigas na cidade de São Paulo de Olivença. Um grupo de homens serviu uma bebida batizada e dopou a jovem. Gisele foi estuprada e violentada e sumiu. “Fomos até a polícia e por falta de efetivo eles não se importaram com o caso. Falaram que era coisa de jovem e que voltaria em algumas horas”, conta a irmã da vítima, Ronnie Gonçalves .

Até hoje Gisele não voltou. Até hoje a polícia não conseguiu investigar o caso. Os moradores da cidade assumiram a investigação e fizeram buscas de barco por toda a região do Rio Solimões. “Minha irmã foi agredida, foi sequestrada e em troca recebemos silêncio. Até hoje não sabemos se ela está viva ou morta
Justiceira
Onde a violência se torna invisível aos olhos da Justiça, uma única mulher tenta expor os olhos roxos, os desaparecimentos e os assasinatos repentinos de mulheres do Alto Solimões. Depois de sentir na pele a violência do marido, Gleissimar deu voz ao que a sociedade amazonense queria calar. “Se você me perguntasse antigamente se existia violência contra a mulher aqui no Solimões eu te afirmaria com 100% de certeza que não. A mulher não grita por aqui. Eu resolvi gritar”, diz Gleissimar.

A violência contra Gleissimar começou com um tapa na cara em 2000 e terminou com uma tentativa de assassinato no meio da noite. “Ele tentou me sufocar com o travesseiro, me agrediu. Eu saí correndo no meio da noite tentando pedir ajuda”, conta. “Eu passei por todos os ciclos da violência. Já tive receio de denunciar e entendo muito bem o nó na garganta que as mulheres do Norte sofrem por aqui.”
Mais de uma década depois, a voluntária da Defesa Civil de Benjamin Constant exerce todo o trabalho que seria dever do poder público e da Lei Maria da Penha. Logo depois que se separou do marido, em 2005, ela fundou a Associação de Mulher do Alto Solimões (Amaflorsol), que dá assistência para mulheres vítimas de violência.
“Não sei se por bem ou por mal, mas quando um homem começa a querer bater na mulher, acaba ouvindo: ‘olhe, eu vou já ligar pra Gleissimar’
Gleissimar assumiu o papel do delegado que não existe, do Disque 100 que não funciona e do 180 inoperante para tentar empoderar as mulheres. É a clássica justiceira dos filmes de aventura, mas na versão mais difícil: a da realidade. É claro que nem todas as mulheres do Alto Solimões conhecem a Glessimar ou a Amaflor, mas é comum ouvir o seu nome sendo usado quando estão próximas de sofrer algum tipo de violência.
“Não sei se por bem ou por mal, mas quando um homem começa a querer bater na mulher, acaba ouvindo: ‘olhe, eu vou já ligar pra Gleissimar’”, diz a ativista.
A popularidade no trabalho também traz um resultado bastante oneroso. Gleissimar é visada e ameaçada de morte na Tríplice Fronteira. Ela já descobriu, alertada por um amigo na polícia, que fazia parte de uma lista de pessoas marcadas para morrer. Grande parte das pessoas com nome na lista havia realmente sido assassinada. “É o que a gente recebe por fazer o justo e o certo. Sinal de que o trabalho está incomodando”, afirma.

Os 10 anos de Lei Maria da Penha coincidem com o tempo de trabalho de Gleissimar na Amaflorsol. Um trabalho ainda solitário e que pede ajuda para o Alto Solimões ser notado pelo Brasil. “É como se a Lei Maria da Penha não tivesse chegado por aqui. Estamos 10 anos atrasados e pedindo socorro para as mulheres serem ouvidas.”
Fonte: BrasilPost